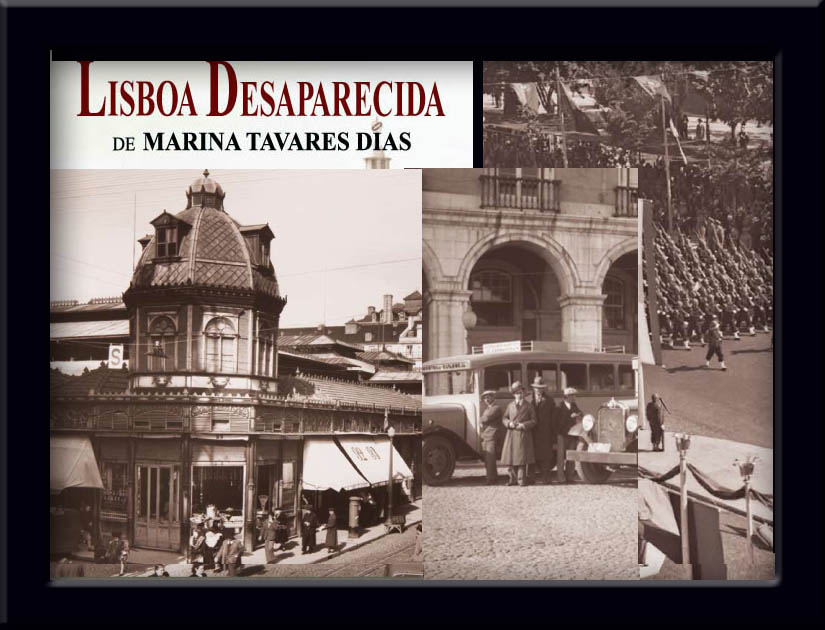em
História do Eléctrico da Carris
(edição do centenário, 2001):
«Mas se as viagens de longa duração (nove dias do Porto até Lisboa) obrigavam já, no início do século XIX, ao uso de transportes colectivos, quase tudo estava ainda por fazer, em termos similares, no respeitante à circulação no interior das cidades. O primeiro quartel de 1800 é ainda, em Lisboa, dominado pelo transporte público de apenas dois assentos. A sege e o respectivo boleeiro constituem uma genealogia que ficou célebre na história da cidade. Inicialmente chamada «de colunas» e tirada por um único cavalo, já existia no século XVIII, tendo sofrido algumas alterações ao longo das décadas. A sege «moderna» baseava-se nos modelos ingleses: duas rodas, caixa muito larga, pintada, envernizada e montada sobre quatro molas. Fechava-se com cortinas de coiro engraxado, permitindo aos passageiros espreitar por dois óculos de vidro, abertos na frente. O estribo era subido e impraticável e as rodas altas demais para os solavancos das calçadas alfacinhas. Quando estavam livres para alugar, ostentavam uma bandeirinha bifurcada.»
[continua no livro]