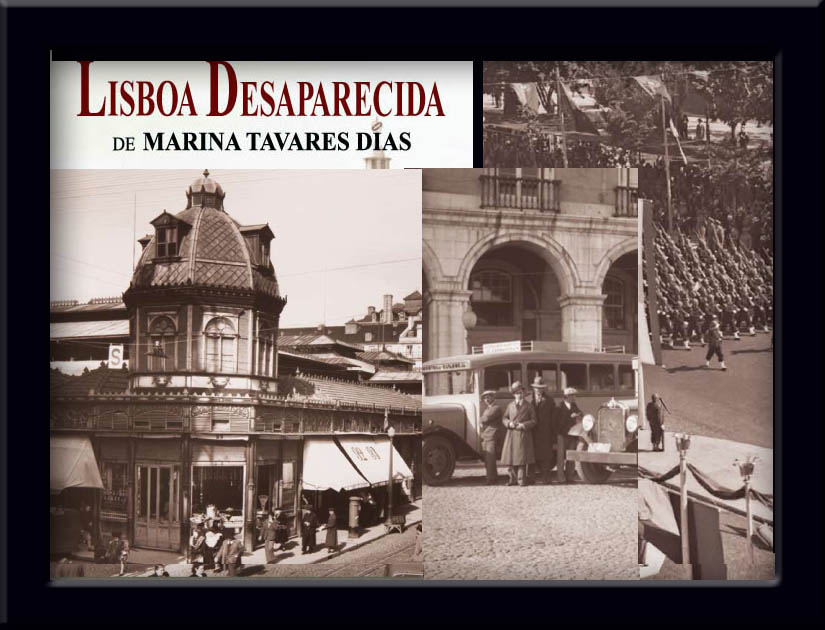terça-feira, 26 de agosto de 2014
25 de Agosto de 1988
Ao cair da tarde do dia 25 de Agosto de 1988, com a área ardida delimitada e em rescaldo, os bombeiros que combateram o incêndio do Chiado podiam finalmente fazer uma refeição ligeira, com os mantimentos que, durante todo o dia, a população da cidade foi entregando ali perto. Os painéis publicitários das lojas, alguns com quase um século, sobreviveriam ao incêndio, mas não às obras de «rescaldo», feitas à pressa e sem critério.
quinta-feira, 21 de agosto de 2014
JOSHUA BENOLIEL por MARINA TAVARES DIAS
Conhecia meio mundo e tinha fotografado mais do que isso. Aparecia nas visitas régias, nos banquetes e nas inaugurações oficiais, nas comemorações, nos comícios e nos cortejos. Estava às primeiras horas da madrugada entre os pregoeiros da lota, de máquina fotográfica em riste, para imortalizar os pés descalços dos pequenos ardinas ou o esforço hercúleo das peixeiras nas descargas do carvão. Conheciam-no bem e à légua, abriam alas para que passasse, com os seus ajudantes e as toneladas de acessórios, facultando-lhe o ângulo ideal em que fotografava os tumultos duma greve ou os prantos por um assassínio. E havia uma frase mágica que Joshua Benoliel lançava sempre ao vento e aos circunstantes, na sua luta para captar o fugidio instante do retrato: “É para ‘O Século’! É para ‘O Século’!”
Retiremos hoje as aspas desse título, a própria evocação de um jornal centenário que morreu pelas ruas da amargura; façamos da História a ciência amoral que é; espraiemo-nos então nesta insuspeitada analogia: Joshua Benoliel dizia a todos a verdade mais pura e simples, com as suas palavras destinadas apenas, talvez, a que o deixassem passar. Ele estava, realmente, a fotografar para o século.
A herança fotográfica das cidades não é obra daqueles que julgaram estar a criá-la. A herança fotográfica das cidades é obra de contingências várias, determinantes do destino de cada pessoa e de cada espólio. Nunca saberemos o que se perdeu com o desaparecimento de “ateliers”, estúdios e casas centenárias onde, ao longo de décadas, muitos fotógrafos se dedicaram à recolha de imagens da tão celebrada “Lisboa na Rua”. Sabemos que, daquilo que chegou até nós, nada se compara com a vasta e talentosa obra de Joshua Benoliel. Para todos os efeitos, para todos os tempos, será ele o fotógrafo da Lisboa de sempre e do Portugal de 1900. Os nosso Atget dos pequenos misteres da rua, o nosso Nadar dos retratos célebres, a nossa referência no olhar remissivo sobre locais desaparecidos, personagens mortas, modos de vida agora incompreensíveis, eventos históricos dos quais teria ficado, apenas, a análise transfiguradora da palavra. Mas, frente a D. Carlos no hipódromo ou a D. Manuel no Parlamento, frente a Teófilo Braga no carro eléctrico ou a Sidónio Pais no gabinete, Benoliel montou o seu tripé e fotografou para o futuro, para o século. É dele a herança fotográfica portuguesa – se é que essa herança existe. Na árvore do seu estilo entroncaram muitos ramos e muitas escolas, e dela nasceram, depois, muitas análises e muitas investigações.
Joshua Benoliel, britânico e judeu de origem, nasceu em parte incerta, a 13 de Janeiro de 1873. Embora vários jornais o tenham dado como alfacinha de gema, alguns investigadores crêem hoje ter sido Gibraltar a cidade natal, hipótese essa que ouvi, em tempos, confirmada por um dos seus antigos assistentes, o fotógrafo Horácio Novaes. Não se sabe quando arribou à capital ou mesmo quando terá começado a fotografar. A sua primeira série fotográfica conhecida, para o jornal “O Tiro Civil”, é de 1898. Assina-a como “amador”. Nesse tempo seria ainda, de acordo com o investigador José Luís Madeira, empregado alfandegário. O seu primeiro trabalho “profissional” conhecido é um álbum de fotografias oferecido ao rei D. Carlos em 1903. Apenas por volta de 1906, em pleno apogeu da revista “Illustração Portugueza”, Joshua Benoliel se transforma no sinónimo de um género então emergente: a foto-reportagem. Contratado – inicialmente sem pagamento certo – pela poderosa empresa do jornal “O Século”, são-lhe então franqueadas as portas de quase tudo o que é comemoração régia ou recepção no Paço. Mas nem por isso Benoliel deixará de regressar à rua, à lida quotidiana da cidade popular, para captar aquelas que virão a ser, no futuro, as suas imagens mais famosas. E é na rua, entre barricadas e festejos, que a jovem República o irá encontrar. O fotógrafo das visitas dos monarcas estrangeiros, das gincanas reais na parada de Cascais, do jovem e recém-aclamado D. Manuel, transformar-se-á em retratista semi-oficial dos primeiros Presidentes portugueses.
Era o tempo em que, trabalhando com máquinas enormes e negativos de vidro, cada fotógrafo arrastava consigo um autêntico arsenal, o que dispunha muitos a largar um tema assim que dele julgavam ter extraído a imagem desejada. Benoliel, morador num andar alto da Rua Ivens, não se dava por satisfeito com uma só abordagem de cada assunto. A sua obra regressa ciclicamente aos mesmos costumes lisboetas e aos cenários importantes do seu tempo. Muitas vezes terá ido de propósito à Redacção de “O Século” deixar o equipamento, só para não ter de subir para casa com tudo aquilo às costas. O escritor e jornalista Rocha Martins – que para ele inventa o epíteto de “Rei dos Fotógrafos” – diz que, por altura da sua morte (em 1932), Benoliel tinha em casa cerca de 60 mil negativos, todos arrumados no corredor. Uma boa parte das fotografias que fizeram as reportagens da “Illustração Portugueza” foi dispersa (provavelmente vendida pelo filho, Judah, também ele fotógrafo) logo após a sua morte. Algumas dessas chapas (cerca de 4 mil) estão hoje no Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa. A Assembleia da República, o Museu de Marinha, o Automóvel Clube de Portugal, a Guarda Nacional Republicana e alguns arquivos particulares possuem também pequenos conjuntos do seu trabalho. Em 1970, a segunda geração dos herdeiros de Benoliel entregou ainda vários milhares de negativos ao jornal “O Século”. Extinto este poucos anos depois, transitaram os “clichés” para a Fototeca do Palácio Foz onde, graças ao desvelo do seu conservador – Avelino Soares –, puderam ser preservados e postos à disposição dos investigadores.
Além de vastíssima colaboração na segunda série da “Illustração Portugueza” (de 1906 até, pelo menos, 1918) e em várias outras publicações dela contemporâneas, o trabalho de Benoliel está divulgado, em estilo de “balanço”, no “Arquivo Gráfico” (colecção comemorativa, editada postumamente em 1935, da qual foram publicados apenas seis números). Rocha Martins traça-lhe, aí, breve biografia, deixando para a posteridade algumas histórias com o fotógrafo como protagonista. Uma delas passa-se no dia da procissão da Senhora da Saúde. O infante D. Afonso (irmão do rei D. Carlos) desfilava habitualmente, como artilheiro do reino. Estrategicamente colocado nas ruas da Mouraria, Benoliel espera pelo momento que dará a capa da próxima “Illustração Portugueza”. Ao avistar D. Afonso, brada, gesticulando: “Parem lá!” E a multidão pára, como se tivesse ouvido a voz de Deus, parando com ela, inteira, a procissão no meio da rua. O fotógrafo bate então o seu “cliché”, gritando após ele nova ordem: “Pode seguir!” Quase se pode dizer que, adivinhando por escassos segundos a importância futura da obra de Benoliel, foi a própria História quem ali parou, para estar à altura duma fotografia.
Marina Tavares Dias
Fotografias:
As varinas de Lisboa, fotografadas dezenas de vezes por Benoliel
(negativos pertencentes ao Arquivo Municipal de Lisboa)
segunda-feira, 18 de agosto de 2014
A chegada da Rainha, 1858
Marina Tavares Dias
em
Lisboa Desaparecida, volume VII:
«Há uma lenda antiga no Hospital de D. Estefânia: pela calada da noite, com passos não muito leves, a jovem rainha costuma voltar e rever-se na sua obra. Sabem-na protectora dos pobres e das crianças, e atribuem-lhe curas estranhas para casos quase perdidos. Fenómenos cuja vertente sobrenatural é negada por muitos, mas que por muito poucos são considerados simples coincidências. D. Estefânia, calma e breve, foi uma das rainhas mais queridas pelos lisboetas do seu tempo. A sua sombra estende o nome por todo um bairro da capital, construído à volta do hospital pediátrico com que sonhou.»
(continua no livro)
Nas imagens:
Arcos montados no início e no final da Rua do Ouro para celebração do casamento real, em Maio de 1858. Em «Archivo Pittoresco».
em
Lisboa Desaparecida, volume VII:
«Há uma lenda antiga no Hospital de D. Estefânia: pela calada da noite, com passos não muito leves, a jovem rainha costuma voltar e rever-se na sua obra. Sabem-na protectora dos pobres e das crianças, e atribuem-lhe curas estranhas para casos quase perdidos. Fenómenos cuja vertente sobrenatural é negada por muitos, mas que por muito poucos são considerados simples coincidências. D. Estefânia, calma e breve, foi uma das rainhas mais queridas pelos lisboetas do seu tempo. A sua sombra estende o nome por todo um bairro da capital, construído à volta do hospital pediátrico com que sonhou.»
(continua no livro)
Nas imagens:
Arcos montados no início e no final da Rua do Ouro para celebração do casamento real, em Maio de 1858. Em «Archivo Pittoresco».
Fotografia de Václav Cifka. Rossio com monumento provisório representando Himeneu. Gravura a partir do mesmo tema.
A Rainha D. Estefânia e o seu Hospital
Marina Tavares Dias
em
Lisboa Desaparecida, volume VII
sobre a Rainha D. Estefânia de Hohenzollern-Sigmaringen:
«No ano em que D. Estefânia chegou a Lisboa (1858), os terrenos onde seria construído o hospital pertenciam à velha Quinta da Bemposta. A sua ideia de prover a cidade de um hospital pediátrico foi rapidamente acarinhada pelo marido, D. Pedro V, que pediu ao Príncipe Alberto, marido da Rainha Vitória, um plano traçado por arquitectos ingleses, correspondendo ao que de mais moderno se construía na Europa desse tempo. Mortos prematuramente D. Estefânia e D. Pedro V, foi já no reinado do irmão deste último, D. Luís, que decorreu a inauguração. Estefânia não chegou a ver o seu sonho materializado, mas soube-o em marcha.» [...]
em
Lisboa Desaparecida, volume VII
sobre a Rainha D. Estefânia de Hohenzollern-Sigmaringen:
«No ano em que D. Estefânia chegou a Lisboa (1858), os terrenos onde seria construído o hospital pertenciam à velha Quinta da Bemposta. A sua ideia de prover a cidade de um hospital pediátrico foi rapidamente acarinhada pelo marido, D. Pedro V, que pediu ao Príncipe Alberto, marido da Rainha Vitória, um plano traçado por arquitectos ingleses, correspondendo ao que de mais moderno se construía na Europa desse tempo. Mortos prematuramente D. Estefânia e D. Pedro V, foi já no reinado do irmão deste último, D. Luís, que decorreu a inauguração. Estefânia não chegou a ver o seu sonho materializado, mas soube-o em marcha.» [...]
(continua no livro)
terça-feira, 12 de agosto de 2014
AS BURRICADAS DA OUTRA BANDA
Marina Tavares Dias
em Lisboa Desaparecida,
em Lisboa Desaparecida,
volume V:
«[.../...] A Outra Banda vem mais tarde. Em pleno Romantismo, cativava apenas os que queriam ver Lisboa do Tejo ou experimentar mais uma qualidade de caldeirada à fragateiro. Possuía, contudo, um atractivo quase exclusivo: as célebres burricadas. Os lisboetas afluíam a Cacilhas quase sempre como continuação de um passeio a Belém, onde tomavam depois o vapor. Antes de se interessarem por praias como a Trafaria ou a Cova do (dito) Vapor, passeavam-se pelas suas escassas ruas, empoleirados num burro alugado que já sabia de cor o caminho, mesmo que lhe vendassem os olhos. Passatempo muito frequentado por intelectuais, jornalistas e escritores, as burricadas da Outra Banda fizeram história durante quase um século e permitiram juntar fortuna a muito dono de taberna no centro de Cacilhas. [...)»
«[.../...] A Outra Banda vem mais tarde. Em pleno Romantismo, cativava apenas os que queriam ver Lisboa do Tejo ou experimentar mais uma qualidade de caldeirada à fragateiro. Possuía, contudo, um atractivo quase exclusivo: as célebres burricadas. Os lisboetas afluíam a Cacilhas quase sempre como continuação de um passeio a Belém, onde tomavam depois o vapor. Antes de se interessarem por praias como a Trafaria ou a Cova do (dito) Vapor, passeavam-se pelas suas escassas ruas, empoleirados num burro alugado que já sabia de cor o caminho, mesmo que lhe vendassem os olhos. Passatempo muito frequentado por intelectuais, jornalistas e escritores, as burricadas da Outra Banda fizeram história durante quase um século e permitiram juntar fortuna a muito dono de taberna no centro de Cacilhas. [...)»
(continua no livro)
Postais ilustrados do início do século XX.
Cacilhas e o seu Farol (edição Commercio do Porto)
Burricada de Cacilhas à Cova da Piedade (edição Paulo Guedes)
segunda-feira, 11 de agosto de 2014
Lisboa, 1755
Marina Tavares Dias
em Lisboa Desaparecida:
«[...] O Paço da Ribeira está repleto de móveis trabalhados e baixelas de ouro. Assim o deixa D. João V a D. José. Cinco anos antes de tudo ser tragado pela terra, pelo rio e pelas chamas. No último dia de Outubro de 1755, o sol põe-se sobre uma cidade manuelina. Pela última vez. [...]»
Continua no livro.
em Lisboa Desaparecida:
«[...] O Paço da Ribeira está repleto de móveis trabalhados e baixelas de ouro. Assim o deixa D. João V a D. José. Cinco anos antes de tudo ser tragado pela terra, pelo rio e pelas chamas. No último dia de Outubro de 1755, o sol põe-se sobre uma cidade manuelina. Pela última vez. [...]»
Continua no livro.
domingo, 10 de agosto de 2014
O REI D: PEDRO V
MARINA TAVARES DIAS:
«D. Pedro V, coroado aos 18 anos logo no início da segunda metade de Oitocentos (1855), é uma das primeiras consciências oitocentistas viradas para o futuro que parece improvável, num país de caciques e de analfabetos.
A Guerra Civil terminara há pouco mais de 20 anos, viviam em Portugal continental três milhões e meio de habitantes, a Regeneração (introdutora do capitalismo em Portugal, segundo Oliveira Martins) ganhara forma em 1851. O cabralismo estava derrotado, dando início ao interminável rotativismo. Alexandre Herculano era o intelectual mais admirado, contando D. Pedro V entre os amigos mais próximos. Tal como no Rei, adivinha-se-lhe descrença total na nova classe política.
O país vai tornar-se capitalista à custa do capital estrangeiro (sobretudo inglês, francês ou «brasileiro de torna-viagem»). Apesar dos arremedos da geração do Duque de Saldanha, cessam antigas conspirações, com a estabilidade finalmente abrindo caminho para novos projectos económicos e novas concepções urbanas. Em Lisboa, a segunda metade de Oitocentos marcará a feição definitiva da cidade, com expansão dos eixos viários para Norte, fugindo do rio, como sabiamente se intuíra desde o terramoto – e maremoto – de 1755. »
(continua no livro)
Imagens:
«D. Pedro V, coroado aos 18 anos logo no início da segunda metade de Oitocentos (1855), é uma das primeiras consciências oitocentistas viradas para o futuro que parece improvável, num país de caciques e de analfabetos.
A Guerra Civil terminara há pouco mais de 20 anos, viviam em Portugal continental três milhões e meio de habitantes, a Regeneração (introdutora do capitalismo em Portugal, segundo Oliveira Martins) ganhara forma em 1851. O cabralismo estava derrotado, dando início ao interminável rotativismo. Alexandre Herculano era o intelectual mais admirado, contando D. Pedro V entre os amigos mais próximos. Tal como no Rei, adivinha-se-lhe descrença total na nova classe política.
O país vai tornar-se capitalista à custa do capital estrangeiro (sobretudo inglês, francês ou «brasileiro de torna-viagem»). Apesar dos arremedos da geração do Duque de Saldanha, cessam antigas conspirações, com a estabilidade finalmente abrindo caminho para novos projectos económicos e novas concepções urbanas. Em Lisboa, a segunda metade de Oitocentos marcará a feição definitiva da cidade, com expansão dos eixos viários para Norte, fugindo do rio, como sabiamente se intuíra desde o terramoto – e maremoto – de 1755. »
(continua no livro)
Imagens:
D. Pedro V fotografado por Mayer & Pierson durante a sua estadia em Inglaterra.
Gravura a partir de fotgrafia da mesma sessão.
D. Pedro V fotografado por Václav Cifka.
D. Pedro V e D. Estefânia no verso da antiga nota de mil escudos, com alusão à inauguração da linha férrea.
D. Pedro V e D. Estefânia no verso da antiga nota de mil escudos, com alusão à inauguração da linha férrea.
sexta-feira, 1 de agosto de 2014
O 'DIÁRIO DE NOTÍCIAS' FAZ 150 ANOS EM 2014
MARINA TAVARES DIAS
em
LISBOA DESAPARECIDA,
volume IV:
[.../...] O edifício inicial do "DN", à esquina Travessa do Poço da Cidade com a Rua dos Calafates (mais tarde Rua do Diário de Notícias), pertencia às oficinas de Quintino Antunes. Há registos de tipografias ali instaladas desde, pelo menos, 1740. Na primeira metade do século XIX, por lá passou José Baptista Morando, um dos mais afamados impressores do seu tempo. Em 1862, a Tipografia Universal imprimia, no prédio, vários jornais anteriores ao "Notícias": "O Conservador", o "Jornal de Lisboa", "O Paiz", o "Commercio de Lisboa", a "Chronica dos Theatros" e o "Progresso e Ordem".
[...]
Três meses após a fundação, o "DN" tinha já, em exclusivo, 30 jovens vendedores pelas ruas de Lisboa, realizando uma média diária de 350 réis. Com ele nascera a imagem do ardina lisboeta, hoje perpetuada na estátua que, em S. Pedro de Alcântara, rende homenagem a Eduardo Coelho. Alguns destes rapazes revelavam, com o tempo, dotes para a escrita. João Baptista Borges, por exemplo, começou por apregoar o "Notícias" pelas ruas. Eduardo Coelho mandou-o para a escola e para um estágio na tipografia. Rapidamente passou a revisor de provas e, logo a seguir, a redactor. Chegou a ter a seu cargo a mais importante secção do jornal: o folhetim diário.
[...]
Eduardo Coelho, figura tutelar na Imprensa portuguesa do século XIX, possuía um perfil digno destes milagres. Nascera de família simples, a 22 de Abril de 1835, em Coimbra, numa rua que hoje tem o seu nome. Quando morreu, em Lisboa - noutra rua que hoje tem o seu nome -, era o mais conhecido jornalista português. O pai fora construtor civil e morrera-lhe quando ele tinha 13 anos. Orfão, veio para Lisboa e empregou-se como caixeiro na Baixa. O horário desse tempo não dava margem para grandes sonhos, fossem eles durante o sono ou não. As lojas abriam quase sempre às sete da manhã e não fechavam antes das dez, onze da noite. Não havia horário certo nem pausas para refeições: comia-se qualquer coisa quando a loja estava vazia ou quando um colega podia, sozinho, dar conta do serviço por alguns minutos.
Mas Eduardo Coelho assumia o martírio com ironia. Ainda estava atrás dum balcão quando publicou o seu satírico "Livrinho dos Caixeiros", com quadras cheínhas de revolta e de fel. O patrão não gostou, mas não despediu o funcionário exemplar. Foi este quem, após estudos e noites em claro, se fez 'mestre' de francês e partiu rumo ao futuro. Qual Bernardo Soares, morou numa mansarda da Rua dos Douradores. Passou fome. Passou mal. Tentou suicidar-se. Em 1857, entrou para a secção de composição da Imprensa Nacional. E a vida, num ápice, mudou.
Próximo daquilo que sempre o fascinara - a letra redonda -, multiplicou escritos e livros, até se fazer notar. Colaborava em inúmeras publicações. Entre elas, as que eram impressas na tipografia de Quintino Antunes. Quando os dois homens se conheceram, começaram a falar da fundação de um jornal. Esse jornal seria o "Diário de Notícias". [...]
Eduardo Coelho, figura tutelar na Imprensa portuguesa do século XIX, possuía um perfil digno destes milagres. Nascera de família simples, a 22 de Abril de 1835, em Coimbra, numa rua que hoje tem o seu nome. Quando morreu, em Lisboa - noutra rua que hoje tem o seu nome -, era o mais conhecido jornalista português. O pai fora construtor civil e morrera-lhe quando ele tinha 13 anos. Orfão, veio para Lisboa e empregou-se como caixeiro na Baixa. O horário desse tempo não dava margem para grandes sonhos, fossem eles durante o sono ou não. As lojas abriam quase sempre às sete da manhã e não fechavam antes das dez, onze da noite. Não havia horário certo nem pausas para refeições: comia-se qualquer coisa quando a loja estava vazia ou quando um colega podia, sozinho, dar conta do serviço por alguns minutos.
Mas Eduardo Coelho assumia o martírio com ironia. Ainda estava atrás dum balcão quando publicou o seu satírico "Livrinho dos Caixeiros", com quadras cheínhas de revolta e de fel. O patrão não gostou, mas não despediu o funcionário exemplar. Foi este quem, após estudos e noites em claro, se fez 'mestre' de francês e partiu rumo ao futuro. Qual Bernardo Soares, morou numa mansarda da Rua dos Douradores. Passou fome. Passou mal. Tentou suicidar-se. Em 1857, entrou para a secção de composição da Imprensa Nacional. E a vida, num ápice, mudou.
Próximo daquilo que sempre o fascinara - a letra redonda -, multiplicou escritos e livros, até se fazer notar. Colaborava em inúmeras publicações. Entre elas, as que eram impressas na tipografia de Quintino Antunes. Quando os dois homens se conheceram, começaram a falar da fundação de um jornal. Esse jornal seria o "Diário de Notícias". [...]
CONTINUA NO LIVRO
Edifício do Bairro Alto que albergou o Diário de Notícias até 1940.
Busto do fundador, Eduardo Coelho, no jardim de S. Pedro de Alcântara
Subscrever:
Mensagens (Atom)